Três vezes 25 25 ilustradores e 25 escritores partilham o seu 25 de Abril
A Câmara Municipal de Grândola desafiou 25 ilustradores e outros tantos escritores a contarem, nestas duas formas de expressão criativa, de que forma o 25 de Abril de 1974 os marcou e juntou a as suas histórias numa coleção de 25 postais evocativos dos 50 anos da revolução dos cravos. A autarquia disponibilizou ao Negócios os referidos postais (texto e imagem) que aqui partilhamos com os leitores. Porque a memória futura se constrói preservando o passado esta é uma viagem que vale a pena fazer. Para ver, ler e desfrutar.
Celebram-se este ano 50 anos do 25 de abril de 1974, data em que um movimento de jovens capitães, interpretando e assumindo a vontade de um povo, devolveu a liberdade e a democracia a Portugal, desbravando um novo rumo de esperança após 48 anos de ditadura, prepotência e aniquilação dos mais elementares direitos de cidadania.
Comemorar esta data é um imperativo de todos os que prezam e pretendem salvaguardar os valores essenciais de civilização e de progresso das sociedades. É-o, ainda mais, num momento em que, em todo o mundo, surgem ameaças aos fundamentos das nações democráticas e se intenta retornar a tempos de obscurantismo e repressão, com fomento de ideias racistas e xenófobas. Mas é também, e sobretudo, uma responsabilidade que Grândola abraçou, desde o primeiro momento, por via da ligação sempiterna do nosso concelho aos ideais de Liberdade, Democracia e Solidariedade, graças às características fraternas do nosso povo, que José Afonso tão bem reconheceu e eternizou no poema-canção que foi senha da revolução de Abril.
Tendo em consideração estes pressupostos — e no âmbito de um vasto e dignificante programa de celebração desta data — o município decidiu editar uma coletânea de 25 postais, constituída por 25 textos e 25 ilustrações, acoplados numa caixa externa com a forma de um livro de capa dura, convidando personalidades que, ao longo da sua vida, tiveram uma ação preponderante para a consolidação e reforço dos valores de Abril e para a defesa constante da liberdade, por meio da arte.
Nesse sentido, vinte e cinco escritores e escritoras e vinte e cinco ilustradoras e ilustradores deram-nos a honra e o privilégio de aceitar o convite para proceder à elaboração e cedência de um texto ou de uma ilustração originais, alusivos ao 25 de Abril, que enriqueceu, sobremaneira, o programa das comemorações da mais importante data da nossa história coletiva recente.
A coleção «O Dia Inicial», cujo título é uma justa homenagem a Sophia de Mello Breyner Andresen, ficará como um pequeno, mas relevante farol que iluminará, sempre, os caminhos de liberdade do futuro, num mundo que queremos mais próspero, justo, inclusivo e fraterno, em que ninguém seja deixado para trás.
Abril de 2024 Carina Batista — Vereadora da área de Cultura da Câmara Municipal de Grândola.

Um cravo
Texto: Helga Moreira
Ilustração: António Jorge Gonçalves
Com a Luíza em diálogo em vez de magnólia
escrevo cravo — e o som que se desenvolve nele
quando pronunciado — um cravo.
Desatados nós do tempo denso, vigiado,
leves nas ruas, nas praças, os passos
sem sobressaltos,
os sorrisos cúmplices, os abraços,
um exaltado aroma
de um cravo,
e o som que se desenvolve nele
quando pronunciado — vinte e cinco de abril
de mil novecentos e setenta e quatro —
por extenso, quanto intensa a emoção,
e a jubilosa alegria desse dia,
a persistir na lembrança.

Texto: Ana Bárbara Pedrosa
Ilustração: Mariana A Miserável
O 25 de Abril é a minha avó a juntar letras. A vida em ditadura foi-lhe diferente da minha. Bem me lembro dos relatos feitos na mesa da cozinha, quando a noite de fim de tarde de Inverno já se punha e chovia lá fora forte e feio. Nesses momentos, estávamos só os três: eu, ela, o nosso chá. A minha avó parecia-me velha sob os óculos meia-lua. De cada vez que viajava ao passado, eu ia com ela, e via-a em criança a levantar-se às cinco da manhã em Novembro, altura em que o frio até ossos gelava. Tinha de andar quilómetros para ir buscar água para os irmãos. Aos seis anos, já era um misto de mãe e irmã ao mesmo tempo. Mãe do meu pai, dos meus tios, dos meus primos, minha mãe, fora antes de nós mãe de muita gente. As histórias da fome doíam-me porque lhe tinham doído no estômago. Não havia nada a fazer, dizia-me ela. Cada dia consistia em arrancar a sobrevivência, e pelo meio em roubar a beleza aos dias. Descrevia-me um país maculado pela privação, pela ignorância, pelo medo, e um povo esquecido, entregue à sua sorte. O risco entre ricos e pobres era um abismo. Feria-me imaginá-la a ir a casa de mulheres ricas comer-lhes a côdea do pão ou roer-lhes as cascas das laranjas. Lá cresceu. Teve filhos. Os irmãos foram todos a salto para França. Ela ficou. Ao regressar, o mais novo trocava os papéis, metia-lhe uma nota na mão, escondia-lhe outra onde ela fosse achá-la depois de ele ter partido. Lembro-me de os ver, já décadas depois: dois velhos de lágrimas nos olhos, a história mais bonita entre irmãos que vi na vida. Quando o meu avô fugiu do país, a minha avó criou a sós os quatro filhos. Fazia o que arranjava: vendia comida aqui e ali, bordava, lavava o chão, esfregava tachos. Também o meu pai passou fome, mas havia momentos de alegria: no aniversário, era um ovo estrelado a dividir por quatro irmãos. Pelo meio, ainda tinha de sobrar para o meu avô. Em 1974, o meu avô voltou. O meu tio-avô começou a vir mais vezes. Quando eu nasci, já não era maravilha nenhuma que alguém fritasse um ovo. Nas tardes de Inverno, ao fim-de-semana, o meu pai ensinava a minha avó a juntar letras. Nos outros dias, eu e o meu primo fazíamos o mesmo. Aos poucos, a minha avó começou a conseguir ler as legendas das notícias, a deixar pequenas notas escritas pela casa. Os livros de História nunca lhe escreveram o nome. Fica este postal: Maria de Lurdes Leite viveu – e o 25 de Abril fez-se para ela.

132 dias
Texto: José Luís Peixoto
Ilustração: José Manuel Saraiva
Encher o peito de ar. Com vontade, a sentir o gosto fresco
do oxigénio e a dilatação dos pulmões. O contrário disso é
respirar sofregamente, com medo, apenas cumprir a essencial
oxigenação, apenas sobreviver. Respiramos acordados e a dormir,
para além dessa necessidade tão trivial, há os pequenos gestos: a
forma como caminhamos, a forma como nos sentamos em cadeiras, o
que vemos quando nos olhamos ao espelho, o que vemos quando
olhamos para o lado, a ideia abstrata que temos de amanhã, de
ontem, e há as perguntas, a desafiarem-nos ou a assustarem-nos, a
fazerem-nos crescer ou a sufocarem-nos. Não pensamos
constantemente na respiração, mas temos a respiração
constantemente afetada por aquilo que pensamos. Encher o peito de
ar é o sinal mais elementar de liberdade. Demorei a entender a
importância do 25 de Abril. Durante a infância e o início da
adolescência, parecia-me demasiado distante tudo o que tinha
acontecido antes de mim. Mesmo que se tratasse de uma distância de
132 dias, o tempo que passou entre essa manhã de Abril e o meu
nascimento, no início de setembro de 1974. Para além da infantil
incapacidade egocêntrica, as explicações que recebia relacionavam
sempre o 25 de Abril com o tempo que o tinha precedido, um não me
era explicado sem a deprimente descrição do outro. Percebo agora
que a minha dificuldade era com esse tempo cinzento, feito de
castigo, de sacrifício, conformado, a vida é assim. Criança e
jovem adolescente, eu sentia que não, a vida não é assim. Eu não
queria olhar para o passado, tudo me chamava para o futuro.
Principalmente porque, só agora distingo, estávamos tão perto de
tudo isso. O passado era o peso de tanta injustiça, sofrimento,
medo. O futuro era o sonho, também portador de algum receio, mas
com muito mais esperança do que medo. 132 dias é quase nada. Ainda
assim, fico feliz que essa sombra não me tenha tocado a pele. E
todos os dias, em todos os momentos, agora mesmo, encho o peito de
ar, sinto o gosto fresco do oxigénio. Estou vivo, estamos vivos,
sou livre, somos livres.

Em cada rosto
Texto: Afonso Cruz
Ilustração: Susana Monteiro
O movimento é essencial para pensar. Tanto Aristóteles como
Epicuro caminhavam para filosofar. Ainda não era a questão do
ângulo e do perspectivismo ou do corpo como assunto filosófico,
mas já era latente a ideia de que a mobilidade é um elemento
substancial para a criação, para o pensamento. Porém, existe um
outro mecanismo que permite um resultado semelhante: quando temos
vozes e sentidos espalhados por todos os ângulos possíveis. Assim,
se eu olhar para um cubo, poderei ver, na melhor das hipóteses,
três lados. Se me deslocar, poderei conhecer as faces inacessíveis
de um ângulo fixo, mas, na impossibilidade de mobilidade, esta
substitui-se pela sociedade, pela perspectiva de cada cidadão. Os
outros ângulos não serão os meus, como resultado de uma viagem à
volta de um objecto ou ideia, mas o conjunto de cabeças que
dirigem a sua atenção a partir de pontos de vista diferentes,
compondo assim uma forma de visão total. É o somatório dessas
vozes individuais que, no seu todo, criam a democracia (quando
existe liberdade de expressar essa mesma voz, algo que pode ser
formulado por «em cada esquina um amigo»). Escrevi um livro para
crianças cujo objectivo era explicar a democracia. Usei o termo
gentileza para definir a atitude democrática espontânea, usando o
seguinte exemplo: a democracia pode ter nascido quando alguém se
lembrou de perguntar a todos os comensais o que cada um gostaria
de comer. Em vez de «gentileza», nesse texto poderia igualmente
ter usado o termo «fraternidade». E se a consideração por cada uma
das opiniões expressadas for total, sabemos existir em cada rosto
igualdade. A questão do rosto é fundamental: não estamos a falar
de números que compõem um conjunto, ou a maioria, mas sim, rostos
individuais, diferentes. São estas vozes distintas que ordenam o
mundo democrático onde um governo eleito deverá apenas colocar em
prática essa vontade, ou, melhor, vontades. O 25 de Abril não
aconteceu somente naquele «dia inicial inteiro e limpo», deverá
acontecer todos os dias, até não se saber a sua idade. Foi um
caminho começado com a Revolução. Estamos hoje, debaixo da sua
sombra, na esperança e na luta de fazer crescer a azinheira
semeada nesse dia.

Texto: Cláudia Andrade
Ilustração: Sérgio Marques
Ex.mo Senhor Director da Polícia Internacional de Defesa do Estado
Tenho o dever e a honra de informar V.ª Ex.ª sobre as actividades
indizíveis que têm vindo a ocorrer no meu quintal. Flores — cujos
nomes infelizmente não consigo facultar a V.ª Ex.ª — põem-se, a
coberto da relva, de androceus e gineceus misturados e ao léu, a
retouçar com abelhas em excessos pervertidos; a buganvília,
rameira de primeira ordem, ostenta impunemente um amaranto que só
posso descrever como obsceno; amoras ordinárias, ignóbeis,
deixam-se cair, preferem a podridão do chão mais raso que a
elevação e paládio da árvore que lhes deu a vida, não respeitam a
lentidão da sua seiva e menos ainda a circular concentricidade dos
seus anéis. O crápula do vento, madraço vagabundo e sem-pátria,
anda por ali noite e dia a levantar as saias do estendal, a
distribuir folhas, a agitar agrupamentos ilícitos de arbustos
encapuzados. O sol estrangeiro passa diariamente, arrogante e
altivo, com a mania que é melhor do que a gente, a querer aquecer
as coisas, a tentar encandear-nos, claramente feito com a sombra
vira-casacas que de manhã parece postar-se honradamente à direita,
mas se torna mais e mais esquerdalha à medida que o dia avança,
até que acaba por trazer com ela a escuridão. Pirralhos vêm aqui
tentar roubar-me figos através das grades, trazem pirralhas com
eles, tudo misturado e sem decência, e na ausência da pedagógica
palmatória dos professores a sério, da terna vergastada do
patriarca com pulso, na anemia de deus, da pátria e da famíla, na
depravação das extensas bibliotecas por censurar e de todo o
insurrecto mundo lá fora que lhes é dado ver, enfim, vão crescendo
sabe-se lá como, e com que ideias extravagantes. Mas nem tudo está
perdido: as formigas sabem por enquanto o que é o trabalho, as
raízes conhecem ainda o seu lugar. É só V. excelência mandar
prender esse bastardo-mor que é o Tempo, espremê-lo bem, fazê-lo
ganir e recuar e depois limpar-lhe o sebo para sempre, que as
coisas ainda se endireitam.
Subscrevo-me a V.ª Ex.ª
A bem da nação!

Cunhar Amor
Texto: Filipa Martins
Ilustração: Mafalda Milhões
O alerta é internacional: o amor está a escassear. A ONU
emitiu um comunicado esta semana. Ao ritmo a que o amor está a
desaparecer não haverá amor que chegue para as gerações futuras. O
Presidente da República falou ao país: poderá ser necessário
decretar estado de emergência. A escassez de amor é visível na
efetivação de afetos, na materialização de gestos de carinho,
cozinhados caseiros das gerações mais velhas, trabalhos manuais —
vulgo, artesanato, no tempo despendido a cultivar a terra, a
apascentar animais, a contemplar a paisagem e num aumento
galopante da solidão. O conselho de ministros reuniu, a Assembleia
da República votou, o Banco Central Europeu aceitou. Os Estados
vão passar a cunhar amor. Eu já sabia que o amor era um bem
transacionável, mas desta vez vinha no jornal. Com medo do impacto
da solidão na economia, o governo decidiu cunhar amor em grande
escala. Deixou de ser raro ou coisa de tipos com sorte. Ficou
vulgar como as águas de um charco em que qualquer pândego se pode
banhar. Quem levou a vida a juntar amor para dias de provação
viu-se tão rico como se tivesse investido em grãos da praia e, num
passeio ao litoral, se deparasse com o mais extenso areal.
Expliquem-me, então, a volatilidade dos mercados: de um dia para o
outro, eu, que julgava ter garantido neste cofre a que os
românticos chamam coração as poupanças de uma vida, vi a minha
fortuna depreciar por excesso de liquidez e um aumento da inflação
galopante. Achava-me de classe média e afigurei-me pobre num crash
de sentimentos que tornou os bens mais básicos como o carinho,
subir a encosta de mão dada com o vento, um beijo no lábio
inferior, respirar o ar da serra, um chá de carqueja quente — bens
a que qualquer punhado de amor dava acesso, recordemos –,
incomportáveis para mim que, se não abastada, sempre me achei
remediada e, sem remédio, me tornei miserável. Eu já sabia que o
amor era um bem transacionável, mas desta vez vinha no jornal.
Como o lobo ibérico, passou a ter estatuto de espécie protegida.
Caberá ao Estado cunhar amor, providenciar um ambiente ideal em
cativeiro para que os gestos de afeto possam florejar. Amor em
habitat selvagem será a exceção, naturalmente. Haverá regiões
demarcadas, devidamente regulamentadas de acesso limitado aos mais
abonados. Os outros? Cumprirão as regras como bons cidadãos,
amando na medida das suas possibilidades. Não serão mais
responsáveis, porque a responsabilidade implica liberdade, mas
bem-comportados na gestão deste recurso. Depois da mercantilização
da água e do vento e da nacionalização da serra, a monetização do
amor seria uma questão de tempo. Os bardos chorarão pelo fim do
lirismo como antes choraram a velocidade dos rios represados. Há
muitas interrogações. Quanto custará um poema de amor? O caudal de
um ribeiro? O martelar da cascata na pedra? A linha do horizonte
orvalhada pela espessura do transcendente? O decreto regulamentará
as especificidades, serão elencadas as exceções e definidas as
paridades. A comissão de técnicos trabalha dia e noite na matriz.
Aos cidadãos apela-se que sejam moderados no usufruto das
poupanças de que dispõem. Nada lhes garante que a cotação se
mantenha. O mais provável é que se crie uma certa volatilidade até
que haja consenso em relação ao valor de mercado de certos
produtos que provêm do amor. Uma coisa é certa: tudo terá de ser
declarado. Criaram um anexo novo na entrega do IRS. Há que fazer o
levantamento.

O Primeiro Tempo
Texto: Julieta Monginho
Ilustração: Bernardo P.Carvalho
Guardo no meu primeiro exemplar da Constituição da República
Portuguesa o teste de latim feito no dia 25 de Abril de 1974. Às
oito e meia da manhã, a professora entrou na aula com a notícia.
Tão cheia de acrimónia que os sorrisos dos alunos permaneceram
engaiolados, como os presos políticos, e até o brilhozinho nos
olhos se conteve, não fosse a platinada mestra plantar-se à frente
da coluna de Salgueiro Maia e impedir a progressão. Ao longo de
cinquenta anos relembrei esse dia que não se deixa aprisionar no
passado. Conto-lhe a história recordando a professora à medida do
tempo vivo, memória e desejo, pois é transformadora a natureza da
data. Em plena liberdade, imagino a professora de latim como o
deus Jano, a face do passado e a do futuro. Ora entra na sala de
má catadura, ora com um sorriso. Ora manda fazer o teste como
castigo, ora, sub umbra imaginaria arboris, solta os cabelos e
anuncia a boa nova. Ora se submete às declinações, ora eleva a voz
nas odes de Horácio. A professora pronunciou a palavra
«revolução», o que constituía um pecado capital. A palavra
pertencia à extensa lista das que nos tinham ensinado a calar, sem
percebermos porquê, pois a explicação já seria, em si mesma,
subversiva. Ser subversivo era como ter uma doença incurável ou
esquecermo-nos da letra do hino da mocidade, ou mastigar a hóstia.
Era não honrar pai e mãe e todos os legítimos superiores, sendo
todos os superiores indiscutivelmente legítimos. Merecia
penitência, para aprendermos a apreciar o cantinho do céu onde
decorria a nossa vida arrumada na gaveta das sobras. Um céu de
onde partiam aviões para a guerra e aonde chegavam cadáveres de
meninos, colegas, primos, vizinhos, com medo de crescer. A
primeira vez que pude escrever a palavra liberdade foi em latim:
Libertas/libertas/libertati/libertate etcaetera À tarde, o latim
desapareceu, a dupla professora foi à sua vida. Tudo se
desvaneceu, excepto Salgueiro Maia em cima da chaimite. Que não
caia, que ninguém lhe dê um tiro, agora que está quase. O coração
batia pelos outros bravos e pelo povo apinhado, já em festa, mas o
capitão Maia era o próprio coração da vitória. Spínola a
aproximar-se, a chaimite em movimento, é agora, agora vai, agora
podemos respirar, ou ainda não, e se o Maia cair numa cilada, e se
as pessoas penduradas nas grades, se as pessoas penduradas nas
árvores, se as unhas roídas, se os outros fizerem sangue.
Finalmente, rendido o derrotado, vozes ao alto, braços ao alto,
cravos ao alto, ao sol dessa canção morena, que não quer saber da
idade.
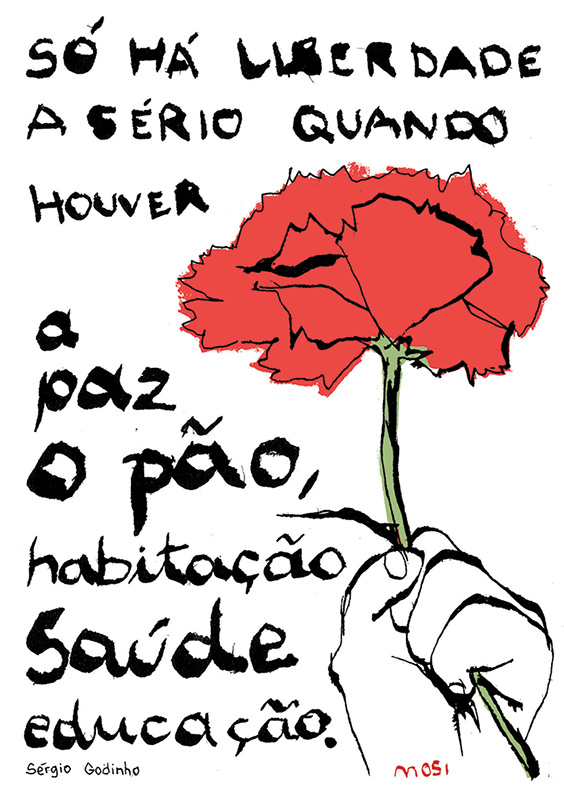
Postal para mais abril
Texto: Onésimo Teotónio Almeida
Ilustração: Joana Mosi
Duvido se terão rolado no mundo anos mais utópicos do que os
dos finais da década de 60 do passado século. A Rússia de
cinquenta anos antes poderá reclamar esse galardão, todavia esteve
longe do clima mundial dessa loucura da segunda metade do século.
E todavia, sem qualquer narcisismo patrioteiro, creio que nenhuma
revolução foi tão pura (ou tão ingénua) como a do 25 de Abril. A
ideia do nosso “socialismo original”, traduzida em poesia e
música, agarrou pelos fundilhos a juventude lusa (bem como não
poucos idosos em recuperação de anos perdidos) e galvanizou a
geração filha do Maio de 68 parisiense pressentindo que finalmente
se concretizava ali a almejada transformação radical. O 25 de
Abril foi a festa onírica do grafito que captou o espírito
dominante no tempo: Queremos tudo!, enlevados nos mais doces e
utópicos sonhos de um homem e de um mundo novos. A tal nos
conduzia a ignorância das ciências sociais — éramos “humanistas”
inocentes — e sobretudo ignorantes da visceral biologia, ainda
hoje tão desdenhada pelos cientistas sociais, considerando —
ingenuamente de novo — tudo ser “cultura”, isto é, acreditando que
os seres humanos podem mudar o que lhes aprouver, se a tal se
dispuserem. O que aconteceu, porém, nos anos subsequentes,
malgrado acontecimentos grandiosos, tem sido um regresso ao
mais-do-mesmo animal trôpego e bruto do passado. Tudo voltou à
mesmidade, só que agora mais perigosa porque a tecnologia aumentou
exponencialmente as capacidades de destruição outrora
inexistentes. Hoje, até a ideia de progresso é posta em causa
visto ser um ideal da modernidade tornado utopia obsoleta. Os seus
críticos esquecem-se que foi a ideia de modernidade que nos
permitiu aqui chegarmos. O que eles não podem perder de vista é
que os ideais dela têm de se harmonizar entre si; não podemos
exagerar na prossecução de um valor em detrimento dos outros. De
momento, todavia, não se nos divisa qualquer alternativa para a
modernidade e, por isso, será erro crasso descurarmo-la, se
quisermos que o 25 de abril continue a ser sinónimo de primavera.

Um lugar sem Abril
Texto: Joel Neto
Ilustração: Nuno Saraiva
Notas para um conto infantil. Três pássaros. Um canário, um
santantoninho e um pardal. Raros e difíceis de apanhar, os
canários: deixam-se criar em cativeiro e cantam maviosamente. Um
pouco menos raros, talvez, os santantoninhos: mas só comem bichos
da terra e, uma vez aprisionados, devem ser devolvidos ao vento
com a delicadeza de quem liberta um anjo. Vulgares como o mato, os
pardais: qualquer um os agarra, mas morrem se enjaulados — e além
disso vão-se às hortas domésticas, condição sobre as demais
abjecta. Um amarelo, um cor-de-laranja e um cinzento. Clero,
nobreza e povo, e os mais bondosos são os carnívoros. Nunca alguém
chorou a morte de um pardal. Ou então plantas — que tal plantas? É
tão metafórica, a paisagem destas ilhas. Um metrosídero,
apoderando-se imponente das terras; uma araucária, de braços
erguidos em louvor; faias indiscriminadas, retorcendo-se umas nas
outras em busca de uma nesga de sol. Quem sabe lugares terrestres:
uma montanha, uma caldeira, cerrados a perder de vista. Peixes do
mar, até: um lírio, uma garoupa, carapau miúdo. Outros animais
ainda: furões, doninhas, ratos do campo. Ou porcos, como no
Orwell. Sim, porcos — porque não? Cinquenta anos depois. Primeiros
no incesto, no abuso sexual, na violência doméstica, na gravidez
adolescente. Primeiros no analfabetismo e na iliteracia, no
insucesso escolar e no abandono escolar precoce (primeiros em toda
a Europa no abandono escolar precoce). Primeiros na mortalidade
infantil e no suicídio jovem, na obesidade infantil e na diabetes,
no alcoolismo e nas drogas sintéticas. Primeiros no desemprego,
primeiros em todas as taxas de pobreza, primeiros na
subsidiodependência, primeiros na exclusão, primeiros na
imobilidade social, primeiros na desigualdade. Sempre primeiros.
Últimos na esperança média de vida. Cinquenta anos depois de
Abril. Quarenta e oito sobre a Constituição e as eleições.
Pardais, faias indiscriminadas, cerrados a perder de vista,
carapau miúdo. Ratos do campo. Porcos. Mas nunca os canários, e
também não — jamais — os santantoninhos. Não nos faltará a
toponímia.
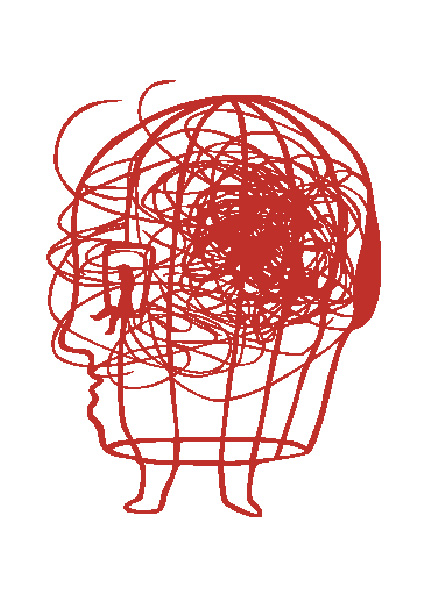
Texto: Dulce Maria Cardoso
lustração: Gémeo Luís
Já fora do gigantesco corpo de vozes e braços erguidos na Avenida,
Luiza e Pedro encaminham-se para o Largo do Carmo, de regresso ao
que ali aconteceu há exato meio século: Luiza acabara de ser
libertada de uma cela da António Maria Cardoso, e Pedro, o seu
amor, esperava-a. A felicidade que, nessa altura, sentiam
acrescentava esperança à esperança da multidão que os estreitava,
tornando-lhes o abraço indestrutível. Foi no dia 25 de abril de
1974. Luiza e Pedro sentam-se, agora, num banco de jardim. Ecoando
da Avenida, ou na memória deles, chega-lhes uma canção, Só há
liberdade a sério quando houver, a paz, o pão, habitação, saúde,
educação… Durante muitos anos, Luiza e Pedro não desceram a
Avenida. Depois de se terem divorciado um do outro, os filhos já
adultos, quase deixaram de se ver. Até que Pedro soube da doença
de Luiza. Tudo começou com falhas de memória sem importância.
Pouco a pouco, o entardecer de Luiza foi-se esquecendo de como a
manhã surgira inteira e limpa. O tapete da memória a recolher-se,
a noite a avançar, Luiza entregue à aflição, Se a doença me engole
o presente, se me vai apagando aos poucos o passado, onde me
abandonará? O terror da repressão, dos interrogatórios e das
torturas, assombrava-a. Médicos encartados, obscuros curandeiros,
família e amigos, sábios das ciências, charlatães da internet,
afirmam que Luiza está condenada a perder-se cada vez mais de si
própria, a deixar de ser ela. Mas Pedro não desiste, sabe como a
tristeza tudo corrompe e agarra-se a uma certeza: se ficarem de
novo juntos, reapaixonar-se-ão. Não haverá mais desencanto nem
cansaço, a tristeza — tem de ser tristeza — vai desparecer. Luiza
voltará a lembrar-se de tudo. Segura do passado, viverá liberta
para o futuro. Por isso, Pedro desceu a Avenida com Luiza, cravos
na lapela, a Grândola nos lábios de ambos. A sua mão não mais se
soltou da dela. Desta vez têm de ser felizes para sempre.

Ainda guardo o jornal desse dia
Texto: Germano Almeida
Ilustração: Lara Luís
Um dos mais belos elogios ao 25 de Abril aconteceu num quartel
militar algures em Cabo Verde quando um grupo de soldados, em
conversa de circunstância e troca de opiniões, teve dúvidas sobre
“o mês em que teria acontecido o 25 de Abril”. E não tendo só por
eles chegado a uma unânime conclusão, dirigiram-se a um superior:
Capitão, estamos aqui numa incerteza, o 25 de Abril, aconteceu em
agosto ou em setembro? O capitão não esperava pergunta tão
incomum, confessou ter sido apanhado de surpresa e deteve-se a
refletir. Mas acabou por concluir que ele mesmo tinha agora ficado
na dúvida se o 25 de Abril tinha sido em agosto ou em setembro.
Mas vou consultar os documentos, disse perentório, e logo logo vos
direi quando ocorreu. Não se ficou a saber a data que o capitão
indicou aos seus subordinados. O que se conhece bem é a forma
soberbamente poética como a Sophia de Mello Breyner sentiu e
descreveu o 25 de Abril:
Esta é a madrugada que eu esperava O dia inicial inteiro e limpo
Onde emergimos da noite e do silêncio E livres habitamos a
substância do tempo
Foi realmente um dia para sempre luminoso. Pela limpidez do tempo
e também pela contagiante alegria que, passadas as primeiras horas
de incredulidade, inundou a cidade. Eu sei o que digo porque
estava em Lisboa e acompanhei significativa parte dos
acontecimentos desse dia. E também dos dias seguintes. Tinha
levantado de manhã para ir à cidade universitária, abri o rádio
para me pôr ao corrente das notícias e apanho a meio um comunicado
das Forças Armadas pedindo à população que se mantenha em casa,
está decorrendo uma operação militar com o objetivo de derrubar o
regime que durante… Aconteceu há 50 anos e, no entanto, o dia
repete-se no meu espírito como se fosse neste agora em que
escrevo: vejo-me a descer de Campo dOurique para o Largo do Rato,
uma manhã soalheira de uma quarta ou quinta-feira, as ruas vazias
de gente, o comércio vazio de clientes. Grupos de homens falando
entre si ainda a medo, uma voz ao longe anuncia o jornal
“República”, já em segunda edição, “As Forças Armadas tomaram o
poder”. Pessoas apressadas seguem pela rua da faculdade de
Ciências e vou atrás em direção ao Príncipe Real. Até desembocar
em frente ao quartel do Carmo onde me junto a uma multidão nesse
momento silenciosamente expectante do que vai acontecer a seguir
ao não cumprimento da ordem de Salgueiro Maia para abrirem o
portão.

Texto: Possidónio Cachapa
Ilustração: Gonçalo Viana
Nessa manhã, acordámos sem a escola antiga. As mães passaram os
dedos preocupados pelas faces e soltaram a surpreendente frase:
“Hoje, não vais, é melhor ver no que dá” e não fomos. As crianças
de ontem ficaram em casa, sabendo que, debaixo do crucifixo e das
fotos a preto e branco, nesse dia ninguém iria cantar a dor da
régua. No Alentejo, o dia corria fresco, era Primavera (só
poderia...) que é quando a terra ainda não acredita que se irá
encher de plantas e frutos. A palavra “revolução” foi chegando, em
surdina, por palavras e rádio. À noite, ainda não se tinha ido
embora e havia quem chorasse, no meio do silêncio das casas. “Pode
lá ser que...?” E, nessa noite que já vinha da madrugada anterior,
de uma madrugada longínqua na capital, pouco se dormiu. E a manhã
clara acabou por chegar. As crianças que, nesse dia, tinham as
idades todas, foram levadas em ombros. Misturadas com cravos e
outras flores que foram aparecendo, porque era Abril e já de
mercados e jardins surgiam coisas que pareciam impossíveis de
nascer, até aí. Porque o Inverno tolhe, prende. Desacredita. Eu,
como outros, fui carregado pela multidão que encheu as ruas da
minha cidade. Deslizei sobre as vozes que entoavam os primeiros
cânticos, sem perceber quase nada das palavras; dei as mãos
meninas a homens e a mulheres que nunca mais vi. Era, então, o
primeiro tempo, aquele em que toda a luz será possível. Em que
tudo pode ser poema. Basta dizer, alto, “irmão” ou “liberdade”.
Fui — fomos — todos rebatizados em nome de um tempo novo. “Isto,
agora, vai.” E foi, num certo sentido. Não se volta à escuridão do
ventre depois de abrir os olhos. Os meninos da revolução nunca
cresceram, no sentido de desacreditar totalmente. Continuámos a
brincar com a possibilidade de haver utopias. De irmandade. De ser
livre de todas as coisas que parecem imutavelmente decididas.
Porque dançámos a verdadeira mudança. Os meninos da revolução
conseguem caminhar contra o vento, porque levam cravos nos olhos e
o ouvido atento, feito antes da palavra. Os meninos da revolução
vão ficar para sempre a conversar com um soldado descontraidamente
deitado no chão, com flores no cano da espingarda. Porque se
lembram. E isso, para eles, é tudo.

LIBERDADE Je chanterai ton nom LIBERTÉ! (Paul Éluard)
Texto: Yvette K. Centeno
Ilustração: Mónica de Miranda
Liberdade
Liberdade
Também eu cantarei teu nome
Como os meus poetas amigos
Cantaram sem tropeçar
Sem medo dos inimigos
Que lhes prendiam as letras
Que os faziam perigar
Canto de vozes tão livres
Que agora se erguem alto
Depois de muito lutar
Entrou a luz de repente
Atrás da luz muita gente
Crianças com flores na mão
Liberdade
Liberdade
Esta hora é de cantar !
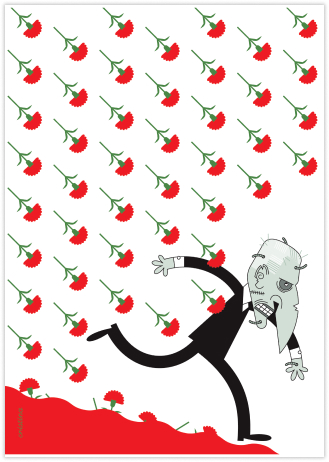
Texto: Anabela Mota Ribeiro
Ilustração: Cristina Sampaio
Gostaria de ter lido os aerogramas que a minha mãe escreveu ao meu
pai durante a guerra colonial. Que será deles? Ter-se-ão consumido
num incêndio que varreu a nossa casa, uma das primeiras e mais
persistentes memórias que guardo da infância? Penso nos aerogramas
porque penso no tempo das minhas primeiras palavras, num tempo em
que tudo era promessa. Quando a guerra acabasse, o pai voltaria.
Quando a revolução acontecesse, acabar-se-iam as fotografias do
mato e da caserna, as fotografias dos filhos dedicadas no verso,
acabar-se-ia a ausência. Seria o fim do medo da mutilação e da
morte. No meu imaginário, o regresso do meu pai é indissociável do
25 de Abril. Foi essa narrativa que me foi contada, como se fosse
uma canção de embalar. Só mais tarde me dei conta de que estava
elidido deste resumo um elemento fundamental: a revolução pôs
termo a 48 anos de ditadura. A revolução instaurou a democracia,
que mudaria de modo decisivo a minha vida — não apenas por trazer
o pai de volta a casa. Quando me vi adulta a reflectir sobre o meu
tempo cronológico (movimento detonado pelo trabalho), escutei de
forma mais nítida esse passado remoto, concatenando as peças num
mosaico que estava esmaecido, mas cujo retrato era reconhecível.
Tínhamos uma ilusão de calendário novo. O famoso poema de Sophia
sobre o 25 de Abril encerra com um verso que tem um nós como
sujeito: “e livres habitamos a substância do tempo”. No primeiro
verso, o sujeito é singular: “esta é a madrugada que eu esperava”.
Impressiona-me esta passagem do sujeito individual para o
colectivo. Eu já integrava este corpo plural. O meu habitáculo
seria um tempo livre, de outra espessura, outra integridade, de
inimagináveis possibilidades. Este colectivo é o mesmo que está na
canção-hino de Zeca Afonso. “O povo é quem mais ordena.” O povo é
esse nós que transborda os limites das classes sociais, esse nós
que vota — e assim exprime a sua vontade — e onde um voto é um
voto, um homem é um homem, uma mulher é uma mulher. Esse nós é o
Portugal da democracia. Sabemos dos passos gigantescos que foram
alcançados, e sabemos do tanto que há a percorrer. Poderia
decalcar alguns desses passos a partir da minha biografia, e todos
derivam, no essencial, da criação de um Estado Social, mas escolho
falar “apenas” da educação. Depois de entrevistar dezenas de
pessoas n’ Os Filhos da Madrugada, desde 2021, não hesito em
identificar o acesso à escola pública e a democratização do ensino
como o motor da transformação, o instrumento que permite alguma
porosidade social. Todos vamos dar à pobreza, à ruralidade e ao
analfabetismo se olharmos para o lugar de onde vimos, duas ou três
gerações para trás. Este era o país da ditadura. A minha vida
passou-se, nestes anos de formação, no interior norte de Portugal.
Quão diferente ela seria se tivesse vivido nas cidades do litoral
ou no Alentejo? Não sei, e talvez não importe muito. Porque nasceu
nesse dia aquilo que determina tudo o resto: a liberdade que
permite escolher. O dia de "puro início", como lhe chamou Sophia
noutro poema, a que devo a minha vida é o meu dia de Natal.
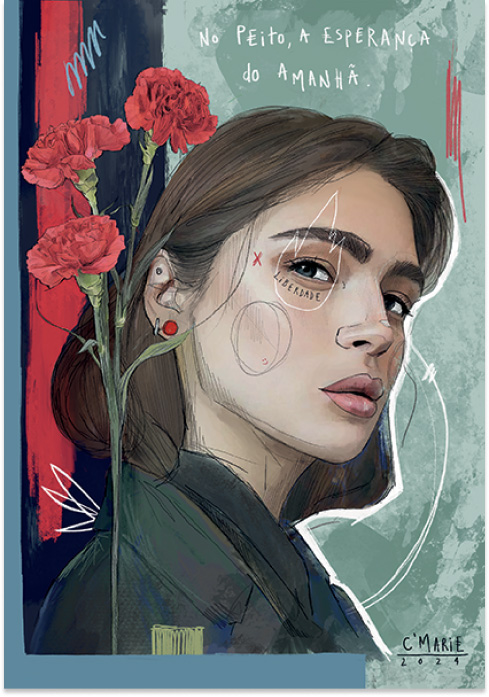
Postal de um centenário para uma menina por nascer
Texto: Inês Pedrosa
lustração: C ´ Marie
Menina que entrarás neste mundo no dia em que eu sair dele, este
postal é para ti. Completo cem anos em Abril de 2024, não tive
filhos, e eram já de velho as lágrimas que chorei depois dessa
madrugada em que um punhado de jovens arriscou a vida para nos
oferecer a todos a liberdade. Conquistei o direito às lágrimas, um
dos direitos que os homens não tinham. Como não tinham o direito
de escapar à guerra, por mais que discordassem dela. Sentia-me
feliz por não ter tido filhos; consolava-me na ideia de que
recusava ao fascismo carne para canhão ou para limpar o chão. Essa
felicidade, o 25 de Abril tirou-ma. A possibilidade de família que
perdera aos trinta anos de idade doía-me, dói-me cada vez mais; o
peso da infelicidade aumenta quando ela deixa de ser política e se
torna pessoal. A minha mulher tinha vinte e cinco anos quando
morreu, na sequência de um aborto feito numa cave, em cima de uma
mesa de cozinha, porque tínhamos um contrato para um ano de
espectáculos em cruzeiros e a mãe dela respondeu-lhe: quem os tem
que os embale. Não gostava que a filha cantasse. Não lhe perdoara
que se casasse com um músico e que fizesse vida de palco. Aquela
gravidez far-nos-ia perder o trabalho. Pensámos que teríamos tempo
– o desespero nos olhos dela, quando percebeu que o nosso tempo se
esgotara num breve voo, assombrou-me a vida inteira. Nunca mais
fui capaz de amar ninguém. Valeu-me a raiva contra a ditadura, a
raiva contra a injustiça, a raiva contra a desigualdade, a raiva
contra a morte da única mulher que amei. Fiz da raiva o meu
sangue. Meti-me no partido, fui preso, torturado. Tive sorte: os
carrascos depressa perceberam que eu nada diria, não tinha
qualquer apego à vida. Vivi na clandestinidade, voltei à luz,
larguei o partido, mas nunca quis outro. Foi a minha família.
Toquei piano em hotéis e bares, acompanhei paixões, alegrias,
desilusões. Vi a maravilha das pessoas poderem ser pessoas. Menina
que poderias ser filha da filha da filha que não tive, nunca
deixes que nada nem ninguém te limite a liberdade.
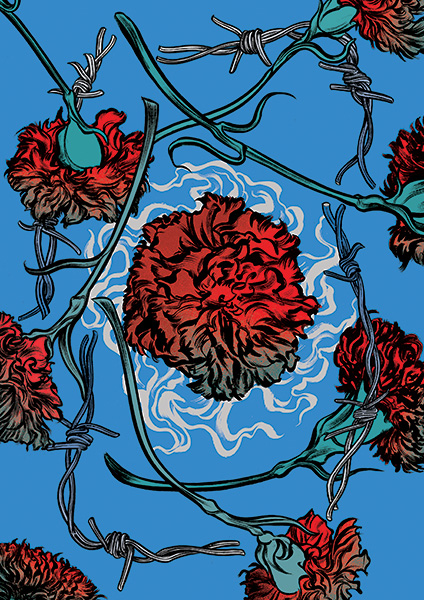
Perdoas-me que chore?
Texto: Maria do Rosário Pedreira
Ilustração: Pedro Lourenço
Pai,
Naquele dia que tu sabes, quando a mãe veio dizer-me que, afinal,
já não passarias o Verão connosco, apertou-me de tal forma contra
o peito que consegui ouvir-lhe o coração bater, zangado, entre as
minhas costelas. Depois, por eu ser o mais velho, fez-me prometer
que me portaria como um homem, e só então me apercebi de que as
notícias ainda iam a meio e que, assim mesmo, eu não teria
permissão para chorar quando acabassem, embora sentisse, encaixado
no meu ombro, o rosto dela absolutamente molhado. À medida que eu
tomava consciência de que aquela tua aparição intempestiva, uns
meses antes, no quadrado do televisor – fardado e a desejar-nos um
bom Natal dessa terra que dizias vermelha nos aerogramas – fora a
última vez que te víramos, para evitar as lágrimas cerrei com
tanta força os maxilares que senti o sabor do sangue nas gengivas;
e, quando a mãe se rendeu finalmente ao silêncio, aliviei os
punhos e os nós dos dedos estavam azuis. Mais tarde, quando o
velório se fez junto à capela aonde a avó ia tantas vezes rezar,
ouvi alguém falar baixinho das minas que tinham matado uma data de
rapazes no teu pelotão, e do teu corpo colhido incompleto do mato,
e do caixão que por isso estava selado, e da mão que talvez viesse
lá dentro, longe do braço que nunca se encontrara, e que não
voltaria a poisar no meu ombro triste. E, como não rebentei num
pranto nesse instante, prometi que nunca mais choraria por coisa
nenhuma. Mas eis que desde esta manhã tenho os olhos cheios de
lágrimas, que correm como rios limpos e frescos pelo meu rosto
crescido. Eis que estreito a mãe nos meus braços fortes e pulamos
de alegria como dois meninos. Pai, os teus capitães invadiram as
ruas de Abril com os seus tanques para dizer a quem mandava antes
deles que a guerra acabou. Sim, leste bem, a-ca-bou. E agora vamos
vê-los atravessar a cidade e assistir à procissão da alegria,
vamos acenar-lhes com a mão aberta na extremidade do braço e
dar-lhes flores, vamos mostrar-lhes os dentes brancos numa
gargalhada séria que, embora não pareça, ainda sabe a sangue.
Perdoas-me que chore?
Lisboa, 25 de Abril de 1974

Miragem
Texto: Hélia Correia
Ilustração: Paulo Galindro
Não foi, pergunto, aquilo uma miragem?
Uma visão reconfortante e, sim, cruel,
pois sabiam decerto que não era
composta por substância duradoura,
só substância do sonho, do desejo
doloroso da sede.
Pergunto se não foi uma miragem
das que o deserto oferece aos viajantes
como que por bondade, estando eles já
sem acesso à palavra, com a boca
embrutecida pelo invisível
açaimo do temor, e tendo eles já
descido para o modo rastejante
pela força que tem o abatimento
e a pancada nas costas, sendo, pois,
tristes cobras na areia a quem a vista
do oásis convida finalmente
a que se ergam e falem outra vez.
Não foi somente a exaustão dos olhos
que os enganou, mostrando o horizonte
cheio de terra fértil e arvoredo,
cheio de pão, de paz, de moradias,
de desvelo e crianças instruídas
pelo novo processo da alegria?
A verdade é que havia pelos ares
aquele esplendor, direi, da arrogância,
daquele entendimento de que tudo
tem a medida humana e é possível,
de que é até possível a beleza
de uma ambição comum,
e quem se inclina
é o pai sobre o filho adormecido,
e o amante sobre o rosto amado
seja ele da mulher ou do poema,
da sementeira ou máquina, da pedra
e do cimento para a construção,
quem se inclina não dobra o seu joelho,
quem se inclina não beija a mão do rei.
Decerto não passou de uma miragem,
de uma iluminação atmosférica
que tudo clareou. E houve um momento
em que essas ruas ideais se encheram
e lhes chamaram rios, como se fossem
um lugar novo para a caminhada.
Houve, pois, um momento
em que o impensável os levou pelo braço:
uma revolução feita com flores,
um exército cheio de brandura.
E se, esfregando os olhos, se perguntam:
«Isto que foi?», vendo que envelheceram,
presos na teia do encanto como em certos
contos de fadas; se ouvem novamente
o som das botas que hão de carregar
nas nucas contra o chão, e se o oásis
se apagou como as lâmpadas se apagam
e a escuridão retoma o seu domínio,
pergunto: que fizeram com o tempo
em que viram brilhar essa miragem?

A FAMÍLIA NORMAL
Texto: Isabela Figueiredo
lustração: Sara Lou
Toda a gente sabe que as paredes dos prédios são de papel. Ouço
tudo o que se passa em casa dos meus vizinhos enquanto trabalho no
escritório. Eles que me perdoem, mas merece ser contado. Os filhos
são rapazes desenxovalhados, alegres. Um terá os seus 6 anos, o
outro cerca de 11. Os pais são funcionários públicos. A mãe
trabalha como funcionária administrativa num hospital e o pai, nos
correios. Com sorte, trazem para casa 1600 euros por mês. Imagino.
Podia ser pior, diz-lhes a mãe quando pedem ténis novos ou
equipamentos eletrónicos. “Temos sorte. Há quem durma na rua. Há
quem tenha de ir buscar comida às instituições.” Vivem à justa,
mas vivem. Pagam as suas contas. Férias não tiram. Vão à praia à
Costa da Caparica. Todos os dias a mesma luta, a mesma rotina.
Saem cedo e regressam ao final da tarde, juntos, pelas 19 horas,
com sorte às 18, se não falharem os transportes. Quando termina o
dia de aulas, os miúdos seguem para a sala de estudo. Quando os
pais saem do trabalho recolhem-nos. Chegam a conversar, a rir.
Pousam os sacos no patamar enquanto a mãe abre a porta.
Interessam-se uns pelos outros. Têm-se uns aos outros. Hoje é
domingo, há pouco o pai irrompeu no quarto dos filhos imitando um
monstro enlouquecido ou um super-herói invencível, a diferença é
difícil de determinar do meu lado da parede. Vinha dizer-lhes
“vamos para a meeeesa!” Também ri. Que bom é sentir que somos o
tesouro de alguém. Essa certeza há de acompanhar-nos sempre. Não é
apenas uma certeza, mas uma fundação, um seguro de vida que nos
prende ao mundo. Os miúdos de hoje, cujos pais trabalham para pôr
o pão na mesa, têm a sua sortezinha. Relembro as histórias dos
mais velhos: ninguém nos manda trabalhar aos sete anos. Não temos
de ir guardar cabras nem aprender um ofício para ajudar na
economia da casa. As crianças podem ser apenas crianças. Tudo é
normal na casa dos meus vizinhos. Nada de luxo. Tudo remediado.
Mas nada de tuberculose, de fome nem pulguedo. É ainda um trabalho
em curso, mas é já uma grande vitória.

Como quem lembra
Texto: José Agostinho Baptista
Ilustração: Marta Nunes
1
Quase toda a noite eu podia ouvir os comboios, sem saber que havia
uma canção.
As palavras eram estranhas e eu nada podia dizer. Algures,
as casas eram brancas e anil,
mas uma extrema solidão marcava as horas da minha vida.
Nunca fora tão insuportável a tua ausência, nem tão tristes os
pequenos barcos do rio.
As minhas mãos escondiam lâminas e silêncios. Frenéticas,
dir-se-ia que há muito esperavam uma madrugada de vozes roucas,
a anteceder um sol que nascia, ainda envolto em bruma.
Assim eram os meus dias:
furtivos, inclinados,
quebrados pelo medo e pelos sonhos que não cabiam num
punho fechado de areia e cinzas,
de frases que um lápis azul, de alto a baixo, corrompia.
Numa varanda voltada para as colinas, num piso de fumo
e insónias,
um arrepio ancestral partiu o meu corpo em dois,
quando as multidões começaram a descer as avenidas de uma manhã
suspensa, estremecida.
Que desassossego explodia sonoramente, que urgência de gritos, que
flores vivas e vermelhas!
Como ecoavam, nas searas de outrora, os jovens passos de
catarina.
2
Ainda era cedo.
Ainda faltavam alguns anos para que os cravos de um mês,
pouco a pouco,
por maldição ou estigma, desaparecessem, antes do fim da
primavera.
Entretanto,
as caravanas do sul aproximavam-se dos campos de cevada e trigo,
desolados como os versos da melancolia.
Mas como eram belos os poentes em laranja e ouro!
À sombra de uma árvore sem idade,
as raparigas da planície sentavam-se pela tarde, olhando para
além, para o horizonte,
tentando esculpir, num pensamento ou numa pedra,
o fraterno rosto de uma terra.
E além,
havia muros, praças, portas que rangiam.
Havia um lenço de cambraia onde as mães bordaram o mais
longo adeus,
havia uma lágrima, um destino, e às vezes, um segredo, uma foice,
algum azul por cima.
E aquele que escrevia,
aquele que viera de muito longe,
voltou a ver o mesmo rio, as mesmas colunas de um cais, a calçada
das mesmas ruas,
respirando enfim, sorrindo como nunca, voltado para fora,
para a canção que havia.

Planície de espigas pretas
Texto: Ana Margarida de Carvalho
ilustração: Tamara Alves
Só tem o sono leve quem tem preocupações pesadas. Luísa
levantou-se num pulo. No ímpeto seguinte já queimava molhos de
papéis no braseiro. Não tinha dúvidas, eles chegavam sempre de
noite. Eles a rasgar a calada nocturna, a interromper os grilos, a
paralisar os tímidos leirões que, com tanto susto, haviam de
deixar para trás cauda e pêlo, a dispersar a fila dos mangustos, a
alvoroçar o casal de corujas que só não abandonou o alto da
chaminé porque tinham um filhote pequeno, tal como ela. Executava
o plano de fuga, tantas vezes calculado, cada pormenor, tarefas
sequenciadas... Sabia que aquele ruído de jipes da GNR na estrada,
e de vozes sussurradas a congeminar assaltos e detenções, havia de
lhe irromper porta adentro em breve, por isso cirandou às escuras
a eliminar vestígios, arrancou o filho adormecido da cama, como
estava pesado o seu bebé, as crianças crescem da noite para o dia,
e saiu pela janela das traseiras, portadas caiadas para disfarçar
a sua existência e correr pelos campos, com três vidas, pelo
menos, às costas. A sua, a do filho e a do marido. Mudaram-se para
ali, quando o bebé nasceu, pareceu-lhes mais recatado e com mais
hipóteses de evasão, à entrada da aldeia de Santigo do Escoural,
numa casa pequena e térrea, indiferenciada das restantes, num
lugar tão retirado, só conhecido por quem lá vivia e tirava
sustento daquela terra agoniada. Não muito longe da herdade Vale
do Nobre, com mais de setecentos hectares abandonados. Ali ninguém
indagaria daquela mulher solitária e seu bebé; o marido, dizia
ela, era caixeiro-viajante. O primeiro percalço aconteceu à saída,
o par de sapatos que repousava lá fora em estado de prontidão para
a fuga, não estava no sítio. Não havia tempo para grandes
averiguações e logo largou a correr pelo campo, engolindo os
fôlegos para não ser ouvida, coleccionando cortes nos pés, picos
que se enterravam na carne a cada passada. Luísa corria, os pés a
escorrer sangue entranhados agora em estrume quente de vaca, de
uma manada enorme, não se sabia onde começava e acabava. Nem se
atrevia a passar entre elas, receava que alguma se arreliasse e
desse um coice na cabeça do menino, percebeu que a manada avançava
como se fossem vários comboios ronceiros na mesma direcção,
ocupando seis linhas. Quanto tempo desperdiçado e este era apenas
o segundo percalço. O terceiro aconteceu na estrada que antes era
de gravilha e agora inexplicavelmente sentia alcatrão que lhe
amaciava um pouco as mazelas. Custou-lhe encontrar o candeeiro de
iluminação pública, aquele que o marido destruíra a lâmpada à
pedrada. Lá detectou a pedra solta no muro, e tacteou no buraco, a
ver se recuperava o sinal, para o marido perceber que não estava o
caminho livre, primeiro a medo, não morasse lá algum escorpião,
depois esgaravatou, partiu duas unhas e nada de sinal nada maço de
tabaco amortalhado. Com tudo isto perdeu a camioneta para
Grândola, onde uma casa de apoio a acolheria. Apanhou boleia em
carrinhas agrícolas de caixa aberta. Ouvia os murmúrios de fome do
filho, mas pareciam-lhe vindos do útero, nem se atreveria a
desapertar os botões da camisa e ficar de peito aberto, seria logo
o centro das atenções no meio dos homens e daí, talvez não, todos
falavam exaltados da manada de vacas, da Herdade Vale do Nobre, da
Lei Barreto, de Maria de Lourdes Pintassilgo… Luísa chegou até à
casa de apoio de Grândola e bateu, exausta. À senhora de meio
idade que a atendeu disse a senha prevista: É aqui que têm um
piano para vender? A resposta não era a contra-senha que ela
esperava: Então se eu não tenho sequer um pífaro, querem lá ver,
parece-lhe uma casa desses luxos? E nem os anteriores inquilinos
eram pessoas de posses, abalaram há cinco anos, nunca se ouviu um
piano nestas ruas. Olhou-lhe para os pés, e convidou-a a entrar.
Luísa deixou-se encaminhar e a senhora lavou-lhe as feridas com
carinho. E tu queres comer, rapazinho? Luísa levou a mão ao peito,
a senhora fez que não reparou e levou um rapaz todo espigadote e
saltitante para a cozinha. Luísa assombrada, o seu bebé de meses…
O noticiário da rádio falava da Herdade de Vale dos Nobres, do
assassinato pela GNR de Casquinha, de apenas 17 anos, e Caravela,
lá do Escoural. A senhora comentou que era a última cooperativa do
país (aquela onde Luísa trabalhava como contabilista). Este 25 de
Abril foi um vendaval, mas depressa se tornou brisa quem nem areia
levanta, é preciso que continuemos todos a soprar na mesma
direcção. Nem dão tempo de nos refazermos dos traumas do fascismo.
Pois não, assentiu Luísa, e pensou nas notícias indignadas que o
marido lhe trazia ao fim-de-semana. Sofrimento traumático,
diagnosticara-lhe o médico. Aconteceu-lhe tantas vezes acordar
angustiada com perseguições, tortura e prisão. Mas viver naquele
passado doloroso acordada… Antes sonhar.
• Em 1979, após a Lei Bareto, dois trabalhadores agrícolas foram
abatidos, quando o agrário e a GNR vieram reocupar a herdade
abandonada e onde funcionava uma cooperativa. Além das terras, o
agrário apropriou-se também do gado criado pelos trabalhadores.
José Gomes Ferreira fez um poema em que falava de searas de
espigas pretas

Abrilar
Texto: João Pinto Coelho
Ilustração: Ana Jacinto Nunes
Com o atraso de meio século, chega por fim o postal. A ilustração
reproduz essa primeira página com que o Diário de Lisboa amanheceu
sexta-feira, 26 de abril de 1974. Há um retrato amarelecido do Dia
da Revolução, o Largo do Carmo a ranger de gente, civis em cacho,
quicos e capacetes, o singelo salão de festas para o velório do
regime. Destreinada do sorriso, a multidão cerra o dente enquanto
visa a matar um alvo por trás das ruínas. Como tudo aquilo que
cresce numa pátria sempre à sombra, as poucas árvores da praça
devem ter secado há muito e servem de pedestal à vigilância do
povo empoleirado às dezenas nos ramos despidos de folhas. Postos
dali para fora, os pombos da capital desarvoraram dos galhos para
o beiral de algum telhado. Terá sido no meio deles que o garoto se
instalou para ver correr o dia, um plano zenital sobre um desfile
de euforia ou o olhar de uma criança numa tela de cinema. O filme
tem banda sonora, o cancioneiro de protesto que insiste na
telefonia, desta vez para celebrar. Com isso as palavras
estranhas, uma tal vila morena que já não sabia a idade, cantada
ao compasso da tropa, e esse amigo que se acha ao virar de cada
esquina. Então o garoto em brasa vai brincar às revoluções. De
joelhos no seu quarto, movimenta as suas forças, armadas até aos
dentes, soldadinhos da Airfix entre as trincheiras de legos. Não
verte gota de sangue para deixar o cenário inocente como as ruas.
Mas como qualquer postal, este vem com duas faces: de um lado a
fotografia, do outro uma redação. A passar revista às frases há
capitães desenhados entre um sarampo de cravos salpicados a
caneta. Pelo redondo das letras, sei que é coisa de garoto, sei
que fui eu que o escrevi. Um texto tocado de ouvido, uma espécie
de poema onde rimam as promessas que então escutei nos passeios,
as lidas nas parangonas ou nas pinturas murais. Usei Abril como um
verbo sem pretérito imperfeito, qualquer coisa que se cumpre e
conjuga no futuro. Abrilar? Abrilar é amanhecer como quem nasce
outra vez.

As utopias
Texto: Gonçalo M. Tavares
Ilustração: Alain Corbel
As utopias são as únicas imagens colocadas lá em cima e lá à
frente que fazem o animal humano andar à velocidade rápida com que
o mamífero comum persegue os bens básicos como a comidinha o
abrigo a casa a água aquilo que protege do frio e do clima meio
torto que por vezes ameaça vindo de cima ou com um tremor que vem
do solo e ameaça dos pés fazer dança e tremor involuntário e sim
se o humano quer muito o básico e a cada dia o exige ele quer
também aquilo que ainda não existe e a verdade é que mesmo depois
de todas as invenções técnicas o humano ainda tem vontade de se
levantar e caminhar e se necessário fazer uma revolução por dia
mesmo que pequenina no seu próprio quintal e nas suas mais diretas
24 horas e se tem essa necessidade de praticar utopias como se
pratica pesos no ginásios é porque no cérebro ou nesse DNA ainda
enigmático do humano está para lá alojada uma área ou uma molécula
ou uma célula o que quer que seja algo material no fundo a que
damos o vago nome de vontade utópica e que é a base da força que
no mundo coloca novos inventos e novas ideias em cima do chão mas
em modo de quase levitação e ainda bem porque assim fica a meio
caminho entre o devaneio aéreo e a solidez da árvore ou seja os
pés bem assentes na terra e a cabeça bem assente nas nuvens como
deve ser e se recomenda. Ou seja ainda: o nosso corpo tem fome e
frio e sede e quer abrigo, casa, comida, paz, pão, saúde,
habitação, liberdade e outras coisas mais simples como
oportunidade de ser até ao fim aquilo que quer ser mas tem ainda
na reserva orgânica essa vontade utópica que em tempos de
comemoração da revolução talvez seja o momento de a tirar para
fora como se faz à roupa antiga que parece já não nos caber e sair
com ela com essa vontade utópica para o espaço e tempo que diante
de nós existe e que de nós exige compromisso político com essa
pólis que é sempre obra não terminada e por vezes até obra em
processo de degradação lenta que só a utopia de mangas arregaçadas
pode de novo reconstituir e melhorar.

Vinte e cinco versos e reversos
Texto: Almeida Faria
Ilustração: Luis Manuel Gaspar
VINTE E CINCO VERSOS
Antes da nossa alvorada
Era crime desejar
Era crime até sonhar
Antes da nossa alvorada
Antes da nossa alvorada
Era crime acreditar
Num mundo novo sem grades
Antes da nossa alvorada
Antes da nossa alvorada
Que tanto há muito tardava
Houve quem desesperasse
Antes da nossa alvorada
Antes da nossa alvorada
Alguns fomos avisados
E muito nos alegrámos
Antes da nossa alvorada
Antes da nossa alvorada
Tantas vozes sufocadas
Tantas vidas destroçadas
Antes da nossa alvorada
Antes da nossa alvorada
Alguém ia imaginar
Manhãs que não terminassem
Tardes como as alvoradas
E noites iluminadas?
VINTE E CINCO REVERSOS
Após a nossa alvorada
Os hipócritas gritaram
Que sempre sempre esperaram
O fim das noites fechadas
Após a nossa alvorada
Os calados sem carácter
Os cobardes festejaram
O fim das noites fechadas
Após a nossa alvorada
Todos os vira-casacas
Sem vergonha celebraram
O fim das noites fechadas
Após a nossa alvorada
Houve silêncios a mais
E perdões aos que adiaram
O fim das noites fechadas
Após a nossa alvorada
A manhã sem torcionários
A tarde sem salafrários
O fim das noites fechadas
Após a nossa alvorada
Alguém irá relembrar
Manhãs que nem começavam
Tardes sem a luz da tarde
E noites sem madrugada?

A canção
Texto: Jacinto Lucas Pires
Ilustração: João Vaz de Carvalho
Uma terra, que é uma canção, que é um chamamento. Grândola, quero
dizer. “Grândola, Vila Morena”. A canção de José Afonso é um lugar
único para quem quer olhar o 25 de Abril. Um chão levantado, uma
praça que respira. Daí vê-se a revolução, para trás e para a
frente, com a distância e a proximidade que só a música permite —
sim, distância e proximidade ao mesmo tempo. “Dentro de ti, ó
cidade/ O povo é quem mais ordena”, canta a voz. A voz de José
Afonso e a voz do coro, que lembramos como duas e uma só. Seria
assim numa sociedade perfeitamente justa: a felicidade do todo
coletivo ligada à possibilidade de cada um ser o máximo de si. “Em
cada esquina um amigo/ Em cada rosto igualdade.” E perguntamo-nos,
por exemplo, o que diz da nossa revolução ter uma canção como
senha, rastilho, amuleto. Ou: há quanto tempo não estamos com os
nossos amigos, fora dos ecrãs, “em cada esquina”? E quando foi a
última vez que olhámos um rosto com tempo e olhos limpos, com
“igualdade”? E, já agora: como poderemos defender aquela “sombra
duma azinheira”? “As canções são cantadas para uma ausência”,
escreveu John Berger. O concreto dia de 25 de Abril de 1974 já lá
vai e é irrecuperável; por outro lado, o futuro é um lugar onde
nos podemos projetar, mas onde nunca estaremos de verdade. A força
desta canção vem disso, também. De acertar no que, em nós, é
“ausência”: a memória de uma esperança lá para trás e a imaginação
de um país mais justo lá para a frente. Voltei hoje a ouvir esta
canção que marca a nossa vida. Um detalhe pouco referido é o que
se pode escutar antes da voz: o som de pés na terra. O som da
terra, o som de gente sobre a terra, a caminhar. Sempre que me
lembro de “Grândola, Vila Morena”, vejo a imagem límpida de uma
utopia, uma “terra de fraternidade”, um lugar ideal que nos serve
de bandeira e inspiração — mas a canção que sonha um mundo novo
começa com os pés na terra. É bom lembrar isso. Ter sempre
presente que uma revolução que não caminha, morre. E que esta
canção — como o próprio 25 de Abril — pede gestos concretos e a
nossa melhor participação.

Em cada rosto igualdade
Texto: Richard Zimler
Ilustração: Jorge Silva
Pouco depois do 25 de Abril, o general Galvão de Melo, da Junta de
Salvação Nacional, declarou: “A revolução não foi feita para
prostitutas e homossexuais”. A afirmação enfurecida do general
revelou os seus preconceitos pessoais, é claro, bem como a sua
falta de empatia por aqueles que tinham sido tradicionalmente
marginalizados na sociedade portuguesa. Para aqueles com mais
perspicácia, também confirmou que as perseguições políticas
poderiam muito bem terminar, mas que as sociais e sexuais
continuariam, como se nenhuma revolução real tivesse ocorrido. De
facto, para aqueles de nós que ainda sonham com uma sociedade mais
igualitária e justa, a mensagem secreta que Galvão de Melo nos deu
(ao contrário das suas próprias intenções) foi que teríamos de
lutar para que a Revolução se expandisse e aprofundasse nas
décadas vindouras. E que enfrentaríamos muita oposição à nossa
tentativa de dar oportunidades iguais à comunidade LGBT, bem como
a outras minorias, como imigrantes e ciganos. E às pessoas cujas
profissões não lhes conferiam o respeito da burguesia portuguesa –
trabalhadores manuais e empregadas de limpeza, por exemplo. E,
sim, às prostitutas. De facto, quando o casamento entre pessoas do
mesmo sexo foi finalmente votado no Parlamento em 2010 – 36 anos
após a Revolução – 97 deputados votaram contra! Ainda hoje, meio
século depois do 25 de Abril, temos um partido político de
extrema-direita que ganha votos caluniando ciganos e imigrantes
africanos. A mensagem é clara: nós, que desejamos uma sociedade
mais justa, devemos lutar todos os dias para alargar o alcance do
25 de Abril. Dado que o Município de Grândola tem patrocinado este
projeto atual, penso que vale a pena perguntar o que José Afonso
diria sobre a Revolução de 1974 dever ou não ser alargada a todos,
independentemente de orientação sexual, origens nacionais, etnia
ou religião. A sua resposta está à disposição de quem tiver
ouvidos para ouvir e está contida na letra da sua canção mais
famosa, Grândola Vila Morena: “Em cada esquina um amigo. Em cada
rosto igualdade.”
- Coordenação: Celso Filipe
- Web Design: David Vinagre e Tiago Gomes
- Coordenação de Design e UX: Edgar Lorga